A despeito de utilizar a busca por Osama Bin Laden como guia narrativo, este eficiente filme é focado na obsessão de uma mulher e em sua desconstrução como ser humano, funcionando quase como uma releitura moderna de “Moby Dick” orquestrada por Kathryn Bigelow e Mark Boal.
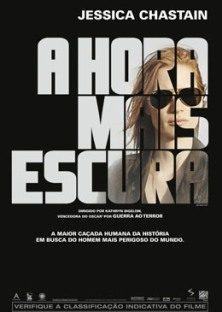 Após o bem-sucedido “Guerra ao Terror”, a diretora Kathryn Bigelow e o roteirista Mark Boal pretendiam mostrar a infrutífera caçada dos EUA a Osama Bin Laden, o líder terrorista que arquitetou os atentados de 11 de setembro de 2001. Com a morte de Bin Laden (ou UBL, como os militares a ele se referem) nas mãos de soldados estadunidenses, o foco da nova colaboração foi mudado.
Após o bem-sucedido “Guerra ao Terror”, a diretora Kathryn Bigelow e o roteirista Mark Boal pretendiam mostrar a infrutífera caçada dos EUA a Osama Bin Laden, o líder terrorista que arquitetou os atentados de 11 de setembro de 2001. Com a morte de Bin Laden (ou UBL, como os militares a ele se referem) nas mãos de soldados estadunidenses, o foco da nova colaboração foi mudado.
Um filme sobre a captura de Bin Laden poderia facilmente se transformar em uma previsível e desalmada ode às forças armadas dos EUA nas mãos de um ufanista como Michael Bay. Destarte, focar nesse tópico simplesmente não seria interessante do ponto de vista cinematográfico. Mas estamos falando de cineastas mais sensíveis e inteligência aqui, que reconhecem o exercício de futilidade que seria um filme desses.
Neste “A Hora Mais Escura”, Bigelow e Boal dissecam a estrutura da trama que levou à morte de UBL, desde os atentados até a deflagração da ação militar em 2011 no Paquistão. Porém, esta tessitura é apenas o pano de fundo para retratar a obsessão de uma mulher, no caso Maya (Jessica Chastain), a analista da CIA responsável por obter a informação que desencadeou ao fim de Bin Laden.
Analista intermediária da Agência locada no Paquistão, Maya passa oito anos de sua vida perseguindo uma pista que todos os seus superiores acham ser um beco sem saída. Neste meio tempo, ela tem de lidar com o peso da responsabilidade de encontrar o arquiteto de um assassinato em massa, com a perda de colegas, com suas próprias frustrações nesta tarefa árdua e com sua própria fixação em fazer o seu trabalho, algo que lhe roubou quase uma década de vida.
Durante a fita, raramente Maya sorri. Ela nunca é mostrada em um momento de descontração, estabelece pouquíssimos laços sociais (todos dentro do trabalho e nenhum de natureza romântica) e mesmo os ambientes onde vive são altamente impessoais. Até o papel de parede de seu desktop é uma foto dela com uma amiga que morreu em um atentado, em um lembrete perpétuo de sua fixação.
De fato, a personagem de Jessica Chastain não possui qualquer tipo de vida fora de seu serviço. Sua desumanização, portanto, é o arco central da película e o verdadeiro cerne desta história contada por Bigelow e Boal. Mesmo as cenas em que Maya não está presente existem apenas como peças do quebra-cabeça que formam o objeto de sua fixação, isso incluindo o último ato da projeção, onde a diretora nos coloca ao lado dos SEALs que eliminaram UBL, em um retrato tremendamente realista de uma operação militar desse tipo.
Inicialmente desconfortável com as técnicas de “interrogatório avançado” (uma suavização do termo “tortura”) empregadas pelo seu pragmático superior imediato Dan (Jason Clarke), aos poucos Maya vê nessa prática o melhor modo de conseguir informações de “combatentes inimigos”. Enquanto o próprio Dan acaba tendo de sair de campo para fazer “algo mais normal”, ela se vê ordenando colegas a machucarem detentos e passando horas a fio ouvindo as informações entrecortadas por gritos dadas pelos prisioneiros.
Chastain oferece uma performance magnífica, explorando cada nuance de Maya e buscando os raros momentos mais emotivos da personagem como um peregrino a um oásis no deserto e abraça a transformação daquela outrora jovem inteligente, cheia de potencial, em uma máquina com um único objetivo em sua vida. A bela atriz consegue definir em um único olhar o momento em que sua personagem deixa de ser uma profissional obstinada e se transforma em uma mulher obcecada em uma cruzada.
O paralelo mais próximo a ser feito é de Maya com o capitão Ahab, de “Moby Dick”. Em determinado ponto da projeção, já próximo da ação militar que marca o clímax da produção, um chefão da CIA, vivido por James Gandolfini, pergunta à protagonista desde quando ela estava na Agência e no que mais ela trabalhou por lá, ouvindo como resposta que a moça foi recrutada direto do colegial e que a busca por Bin Laden tinha sido sua única missão.
O filme ainda conta com um elenco de apoio fortíssimo, destacando as poderosas interpretações de Jason Clarke, Jennifer Ehle, Mark Strong e do já citado James Gandolfini. Dividindo a película em capítulos, algo pouco usual em sua filmografia, Bigelow investe em um clima de tensão tão presente que, mesmo com o público sabendo do desenlace final da trama, ainda teme pelo destino dos personagens.
A diretora consegue isso por meio de uma amarra conveniente dos fatos reais nos quais a película é inspirada com uma dose leve, mas eficiente, de romantização desses acontecimentos. O clima da produção e o realismo desta jamais são abalados, com a cineasta mantendo o público sempre na ponta da cadeira.
Bigelow e seu diretor de fotografia Greig Fraser criam visuais específicos para cada um dos ambientes onde a história se passa (EUA, Paquistão, Kuwait, Reino Unido e Afeganistão), com o trabalho com sombras merecendo especial atenção (algo que vem se tornando especialidade de Fraser, como atesta o recente “O Homem da Máfia”). A trilha sonora de Alexandre Desplat é extremamente discreta e minimalista, mas não menos eficiente.
“A Hora Mais Escura” jamais se rende a um discurso fácil e direto, explorando a complexidade da situação político/militar para mergulhar de cabeça nas obsessões de sua protagonista. As lágrimas derramadas e a falta de uma resolução mais definitiva espelham a falta de rumo de Maya e de seu país, mostrando que “Codinome Gerônimo” pode ter caído, mas que as cicatrizes provocadas por mais de uma década de conflito não irão desaparecer tão fácil, em um “E agora?” quase impossível de se responder.

